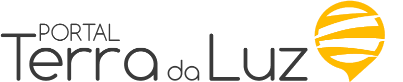Internacional: Trump propõe auxílio e passagem aérea para imigrantes ilegais que aceitarem autodeportação
15/04/2025
Nova Rota: Fortaleza ganha novo voo internacional da Air France vindo da Guiana Francesa
15/04/2025Opinião: Instabilidade, Incerteza e Insegurança no Mundo Contemporâneo Por Élcio Batista, Cientista Social, Professor e Líder em Inovação. Coordenador do Programa Cidade +2°C do Centro de Estudos das Cidades | Laboratório Arq.Futuro | Insper

A nova era da instabilidade sistêmica. Um paralelo histórico: Revolução industrial e instabilidade global | Foto: reprodução
A sensação de que o mundo atual está em constante desordem não é inédita. Há momentos históricos em que mudanças tecnológicas e econômicas profundas abalam estruturas políticas, sociais e culturais, gerando ciclos de instabilidade e incerteza. Um desses momentos foi a Revolução Industrial, ocorrida principalmente entre o final do século XVIII e o século XIX, que alterou radicalmente a forma como sociedades humanas produziam riqueza, se organizavam e se relacionavam com o tempo e o espaço.
Assim como hoje, aquela época foi marcada por aceleração, disrupção e rupturas — embora em outro ritmo e escala. A transição do trabalho artesanal para a produção mecanizada, o surgimento das fábricas, o crescimento explosivo das cidades, a expansão das ferrovias, a industrialização da guerra e a reorganização das relações de trabalho produziram um mundo inteiramente novo, mas também profundamente instável.
Do ponto de vista geopolítico, a Revolução Industrial desequilibrou o sistema de poder global. A Grã-Bretanha, primeiro país a industrializar-se plenamente, tornou-se potência hegemônica no século XIX, exportando não apenas produtos, mas também instituições, normas, línguas e valores. Em paralelo, outras potências emergiram: a Alemanha unificada, os Estados Unidos industrializados e, mais tardiamente, o Japão modernizado. Esse novo eixo econômico e militar desestabilizou impérios antigos — como o Império Otomano, o Austro-Húngaro e o Czarismo Russo — que não conseguiram acompanhar a velocidade das mudanças. A Primeira Guerra Mundial (1914–1918) foi o estopim de colapsos imperiais acumulados e mal administrados.
>>>SIGA O YOUTUBE DO PORTAL TERRA DA LUZ <<<
A industrialização não apenas gerou crescimento econômico sem precedentes, mas também profundas desigualdades, migrações em massa e protestos sociais. Cidades como Londres, Manchester, Paris, Berlim ou Nova York se tornaram centros de aglomeração populacional, com péssimas condições sanitárias, exploração trabalhista e ausência de regulação. O aumento das tensões sociais levou à emergência de ideologias revolucionárias — como o socialismo, o anarquismo e o marxismo — que propunham respostas radicais ao sofrimento das massas trabalhadoras.
Os movimentos luditas, que destruíam máquinas como forma de protesto contra o desemprego tecnológico, simbolizam uma reação visceral à transformação econômica. As Revoluções de 1848, que abalaram diversos países europeus, revelam o quanto a instabilidade social gerada por mudanças econômicas profundas pode se converter em crise política. Karl Marx e Friedrich Engels, ao escreverem o Manifesto Comunista, diziam que “tudo que é sólido se desmancha no ar” — uma frase que sintetiza não apenas a volatilidade de seu tempo, mas também a forma como o capitalismo dissolvia os vínculos sociais tradicionais.
A Segunda Revolução Industrial, entre 1870 e 1914, introduziu novos elementos: eletricidade, petróleo, aço, produção em massa. Ela consolidou uma economia mundial interconectada por finanças, comércio e comunicações. Mas também gerou um novo tipo de risco: o colapso sistêmico. A crise de 1929, a Grande Depressão e, em seguida, a Segunda Guerra Mundial revelaram que a globalização econômica sem mecanismos de regulação social e política pode se tornar altamente instável.
O economista e sociólogo Karl Polanyi, em A Grande Transformação (1944), argumentou que a tentativa de subordinar toda a vida social à lógica do mercado acabou destruindo os laços comunitários, produzindo insegurança e instabilidade em massa, e gerando reações autoritárias. Em suas palavras, “o liberalismo de mercado desfez o tecido social que mantinha a coesão das sociedades”, o que levou ao surgimento de regimes fascistas e à ascensão de sistemas totalitários como o nazismo e o stalinismo.
Esse ciclo de instabilidade – provocado por inovações tecnológicas mal integradas ao sistema político-social – tem ressonâncias evidentes com o presente.
Hoje, vivemos uma revolução digital tão transformadora quanto a revolução industrial, com inteligência artificial, automação, internet das coisas, criptomoedas, biotecnologia e energia limpa redesenhando as bases da produção e da convivência. E assim como naquela época, enfrentamos rupturas no emprego, crescimento de desigualdades, ansiedade social, erosão institucional e emergência de novos extremismos políticos.
As reações ao novo também assumem formas semelhantes: protestos de rua contra elites políticas e econômicas, surgimento de ideologias radicais à direita e à esquerda, nostalgia por um passado supostamente mais estável, rejeição ao globalismo. A diferença é que, hoje, essas transformações ocorrem em velocidade exponencial e em escala planetária, com consequências mais rápidas e abrangentes.
A lição histórica da Revolução Industrial é clara: transformações profundas na base econômica da sociedade exigem adaptações igualmente profundas nas instituições políticas, nas políticas sociais e nas culturas coletivas. Quando essa adaptação não ocorre — ou ocorre tardiamente —, os choques se acumulam até produzirem rupturas sistêmicas.
Diante da revolução tecnológica atual, da crise ambiental global e da desorganização da ordem internacional, a humanidade enfrenta um dilema análogo ao do século XIX: ou construímos instituições capazes de absorver e regular as transformações em curso, ou assistiremos a uma escalada de instabilidades que poderão culminar em guerras, colapsos ou novas formas de autoritarismo.
Élcio Batista é Cientista Social, Professor e Líder em Inovação. Coordenador do Programa Cidade +2°C do Centro de Estudos das Cidades | Laboratório Arq.Futuro | Insper
O texto acima expressa a visão de quem o assina, não necessariamente do Portal Terra da Luz. Se você quer publicar algo sobre o mesmo tema, mas com um diferente ponto de vista, ou um outro artigo com suas ideias, envie sua sugestão de texto para portalterradaluz.

Leia também | Nova rota entre Ceará e China reduz tempo de transporte e pode aumentar importações até 20%